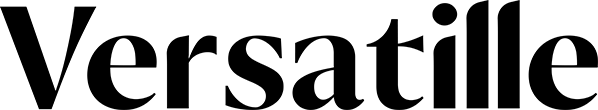Entrevista: Nina Silva, cofundadora do Movimento Black Money
Carioca de discurso afiado, ela é fundadora de um movimento que busca levar a comunidade afro-brasileira adiante em aspectos sociais, profissionais e financeiros

Ao chegar para a entrevista, em um sábado de sol em março, na capital paulista, a exuberante Nina Silva usava seus costumeiros saltos, decotes e acessórios dourados, e cumprimentou a equipe como manda a etiqueta adaptada para a pandemia de coronavírus: sem se aproximar, fez uma saudação de Wakanda, que ficou popularizada com o filme Pantera Negra como um cumprimento apropriado pelo povo negro – que consiste em cruzar os punhos na frente do peito, voltados para dentro.
Nina é simpatia pura e traz o deboche do subúrbio carioca na fala, misturado a expressões do mundo dos negócios e temperado com o discurso politizado de quem não pode descuidar de sua condição de mulher negra em espaço de poder. Poder de persuasão e de transformação: aos 37 anos, galgou altos postos trabalhando com tecnologia da informação em empresas como Honda e L’Oréal, e hoje se dedica ao próprio negócio. Ela é cofundadora do Movimento Black Money, um espaço (digital e off-line) criado em 2017 para conectar profissional e socialmente o povo negro. O intuito é fazer o dinheiro circular por mais tempo entre a comunidade, além de promover ações de capacitação profissional e estimular o empreendedorismo.
A ideia é reverter os números da desigualdade social brasileira. Segundo o estudo Desigualdades Sociais por Cor ou Raça no Brasil, do IBGE (2019), entre os negros está a maior parte da força de trabalho (54,9%), porém o maior número de desempregados (64,2%), o menor rendimento médio familiar per capita (R$ 934 contra R$ 1.846 para os brancos) e a maior taxa de feminicídio (61%), segundo dados do Anuário Brasileiro de Segurança Pública (2019).
Nina também pontua que os negros têm o crédito três vezes mais negado em instituições financeiras – motivo que a levou a criar o D’Black Bank, uma fintech que “visa à justiça econômica”, segundo a própria instituição, que também disponibiliza a Pretinha, maquininha de pagamento que é distribuída sem custo a afro-empreendimentos com mais de R$ 5 mil de faturamento.
Se em termos de cifrão ela ainda espera muito mais retorno, em aspectos que ela chama de não mensuráveis tudo vai muito bem. Em 2018, Nina foi reconhecida pela Mipad (Most Influential People of African Descent), da ONU, na categoria negócios e empreendedorismo entre os menores de 40 anos. De fato, essa foi uma premiação que trouxe visibilidade para a profissional e seus projetos, mas ela considera que a autonomia e o protagonismo do empreendedorismo negro são um caminho ainda a ser pavimentado por muitas outras Ninas. Acompanhe a conversa com a VERSATILLE a seguir.
VERSATILLE – Como é seu dia a dia de trabalho?
NINA SILVA – Ih! [risos] Tanta coisa. Tem a frente de palestras e treinamento, seja de eventos, seja de empresas. O outro braço é a Nina enquanto RP do movimento Black Money, que acaba fazendo de mim uma marca também, como influenciadora digital. Dentro do próprio MBM sou chief operations office e chief executive office com meu sócio [Alan Soares], que trabalha o growth. Dentro do movimento a gente tem a parte de educação, que é a AfreekTech, e a financeira, que é o D’BlackBank.
V – Como surgiu o projeto?
NS – No início, a gente queria conceder crédito para pessoas pretas a partir da tecnologia. As pessoas perguntavam por quê. Porque temos de praticar o black money. “O que é isso?” É deixar o dinheiro circular por mais tempo na mão da comunidade negra. “Mas por quê?” Porque somos a maioria dos desempregados e os que menos recebem crédito. “Ah, mas isso não é racismo reverso?” A gente começou a esbarrar em questionamentos de pessoas brancas e também da comunidade. Em 2017, já existia a questão do empreendedorismo negro, mas havia alguns gaps, algumas frentes estavam desatendidas. Fomos cuidar daquilo que não existia.
V – Não é simples entender de cara o MBM, certo?
NS – Não muito. O MBM é uma rede de conexão de profissionais e pessoas e de fortalecimento, para fazer circular o capital, não apenas o de grana, mas também o intelectual e o social. Incentivamos a pessoa a deixar seu posto de prestador de serviço para se tornar dono do próprio negócio e empregar gente da comunidade.
V – Como é ver o projeto tomar forma?
NS – O MBM quer tirar as pessoas da comunidade da situação de subserviência. Algumas ainda se perguntam: “Por que tenho de empregar pessoas negras?”. Tem as safas, que a gente chama de “nega véia” [risos], e aquelas mais resistentes. São 80 mil seguidores, entre meu perfil pessoal e o do Black Money, além de 30 mil pessoas cadastradas em nossos e-mails semanais. Na rede tem esteticista, dono de restaurante, personal trainer, endocrinologista, dentista, corretor de imóveis, advogado, fisioterapeuta, dono de gráfica. Há coletivos de mulheres que se formaram em eventos nossos. A ideia é que pessoas pretas podem estar tanto em lugares como o da estética quanto em áreas de tecnologia e engenharia, por exemplo. Ainda colocamos dinheiro do próprio bolso porque entendemos que o valor de nosso negócio é intangível, ao contrário de um investidor que não entende a causa, o que piora se ele não for negro e não tiver empatia. O mercado enxerga mais nossas ferramentas de negócio do que as de educação. A gente não quer entrar nesse círculo vicioso de esperar que os outros enxerguem o valor de nosso negócio.
V – Como você se conscientizou de sua condição?
NS – Sempre fui uma criança um ano à frente na escola e aprendi a ler com 4 anos, mas fui tolhida de externar minha inteligência. Em ambientes brancos, eu era a criança preta que estudava de bolsa e tinha de aproveitar o máximo possível aquelas oportunidades. Ouvia coisas como: “Ah, tadinha, a professora a coloca na frente porque ela é assim” – eu não entendia o que era ser “assim”. Na faculdade, minha beleza não era vista como beleza. Foi aí que, pela Internet, encontrei uma galera que escrevia sobre comunidade negra, sobre música. Fui a um happy hour e vi aquela turma preta arrumada, bonita, com diferentes cabelos. Vi que era possível ver pessoas pretas se pegando. Fui ver que existia um mundo em que poderia me enquadrar sem ficar o tempo todo me justificando sobre por que estava ali.
- LEIA MAIS: “Ser produtivo não é a prioridade agora”, diz psicanalista Christian Dunker sobre quarentena
V – Foi aí que você escreveu um livro.
NS – A escrita ajuda a colocar para fora aquilo que você não tem espaço para falar. Na literatura, a mulher negra é sempre a mucama, a ama de leite ou a mulata do cortiço, e é sempre vista pelo olhar do outro, como o de Jorge Amado, por exemplo. Pensei que o erotismo era uma possibilidade de romper e de me expressar. Aí comecei a entender melhor meu corpo e a mim mesma. Vou ser sempre a mais pigmentada, não adianta. Meu cabelo vai ser sempre o mais crespo. São coisas que, independentemente do olhar da outra pessoa, estão lá. Não tenho de me regular por causa disso.
V – E como foi sua experiência no mercado de trabalho?
NS – As mesmas antigas necessidades e justificativas foram solicitadas, mas com um peso maior, porque comecei a galgar espaços de liderança. Mais do que recompensado, isso era questionado. Gerenciava times com homens brancos de 40, 50 anos, e eu com 27, 30. O questionamento deles era: “Como eu vou receber diretrizes de uma menina?”. Era um “menina” para me diminuir. Às vezes, as pessoas me perguntam: “Posso te chamar de preta?”. Depende. Você sente se tem carinho, “minha preta”, “pretinha”. “Uma menina que senta ali na frente, aquela menina ali” era co – locado de uma forma diferente.
V – O que você guardou na memória: suas vitórias ou seus embates?
NS – As duas coisas foram importantes. Esses embates me lembram por que dei alguns direcionamentos em minha vida e por que não me arrependo disso, de auxiliar outras pessoas pretas e mulheres a ter autonomia, e até de ajudar empresas a ter ambientes um pouco melhores.
V – Quem inspira você?
NS – É claro que uma Michelle Obama me inspira. Mas tenho de fazer o rolê do entendimento para perceber que ela precisou aceitar que o presidenciável era ele [Barack Obama], e não ela. É lógico que a Oprah vai me influenciar como mulher de negócio à frente de projetos sociais, mas penso que ela poderia dar mais espaço para a comunidade. Uma grande inspiração é a americana Yvonne Cagle, astronauta da Nasa, cuja palestra ouvi em 2018, falando sobre suas experimentações como médica em projeto de incursão a Marte em 2030. Ela não estava falando de comunidade negra, de racismo, mas apenas de sua especialidade, independentemente de ser negra e de ser mulher. É aí que queremos chegar: trabalhar com normalidade, e não diversidade, já que o normal é ser diverso.
V – Quais são seus luxos?
NS – Vinho. Acho que o Rio de Janeiro pede uma cerveja gelada, mas aqui em São Paulo aprendi a gostar de vinho.
V – Onde encontrar você em São Paulo?
NS – Gosto muito de frequentar o Velho 45, que é um empreendimento de pessoas negras na Avenida Faria Lima. Tem alguns quilombos urbanos, como a gente chama, como o Aparelha Luzia, que fica nos Campos Elíseos, que sei que vou encontrar pessoas pretas conscientes, mas que querem apenas se divertir e se celebrar. Também gosto de ir a sambas na Zona Norte e a Sescs da Zona Sul, que me remetem ao subúrbio do Rio.
V – E quanto a estilo? Você parece gostar de se vestir de maneira sexy.
NS – Ah, essa sou eu! Você sempre vai me ver de salto alto, de decote, de acessórios dourados, bem realeza mesmo. E também gosto de cores. Já tive problema com isso no trabalho, porque usava terno colorido, e diziam que aquilo não era roupa de executiva.
V – Como você reagia?
NS – Não mudei meu estilo porque muito do que falavam de mim eu só soube depois. Recebo direto, via Linkedin, mensagens de colegas antigos que vêm se desculpar por não terem se posicionado quando, na época, ouviam alguém dizer que meu cabelo trançado devia feder, ou que eu estava na área internacional porque tinha caso com o chefe, ou que meu apelido era “a africana” – o que eu considero ótimo, pois entendo que sou mesmo africana, nascida na diáspora, assim como os judeus são judeus em qualquer parte do mundo. Mas é claro que não era um “africana” carinhoso, um “Lupita do meu coração”. Não era esse o tom.
V – Por que você não quis os cabelos com cachinhos definidos? [Para o ensaio, Nina pensou e repensou o estilo dos apliques e penteados propostos por Leia Abadia, do salão Preta Brasileira.]
NS – Por que o black considerado bonito é aquele que tem cachos nas pontas? Se a gente está se libertando de tantas coisas! Por que entrar em outra caixa? Na faculdade, me sentindo diferente, quis mudar, então fui relaxar o cabelo, o que fiz por quatro anos seguidos, para tentar me enquadrar. Depois que encontrei minha turma, que assumia os cabelos afro, decidi que nunca mais iria mexer nele.
V – Em que momento de vida você está?
NS – Procurando resiliência para colher frutos do que estamos semeando enquanto grupo. E também para entender o timing das pessoas e o próprio mercado que, quando vê movimentações de poder, se autorregula para nos marginalizar de novo. Preciso desse olhar de águia, para não romantizar as coisas. Hoje penso mais sobre quanto de meu capital posso transferir para minha comunidade, com ou sem capa de revista. Ainda vejo que é necessário aparecer, mas daqui a pouco espero que outros corpos e rostos da comunidade surjam e tragam continuidade, não apenas uma aparição pontual. Quero parar de me preocupar com o que posso fazer para melhorar o cenário. Acho que não vai ser possível nesta vida. Ainda é semente. Daqui a algumas gerações esse caminho vai estar mais asfaltado.
CAPA por Milene Chaves | Matéria publicada na edição 115 da revista Versatille
Fotografia Fernando Louza
Styling Zedu Carvalho
Edição de Moda Paloma Vergeiro
Assistente de Produção Matheus Spindola
Maquiagem Hicaro Thales
Cabelo Leia Abadia (Salão Preta Brasileira)
Tratamento de Imagem Carlos Mesquita
Assistente de Fotografia Tamires Prado
Agradecimento: Luanda Negreira (assistente Nina Silva)