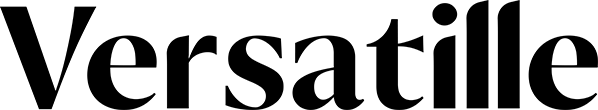Conheça Aly Muritiba, diretor de Deserto Particular
O filme do baiano foi selecionado em outubro pela Academia Brasileira de Cinema (ABC) para disputar uma vaga na categoria de melhor filme internacional no Oscar 2022

O nome Aly Muritiba pode não ser familiar, mas você provavelmente já assistiu a algumas das obras em que ele assinou a direção, como o aclamado filme Ferrugem (2018) e O Caso Evandro (2021), série de grande sucesso da GloboPlay. Ainda que seja considerado um novato na cena do cinema brasileiro, seu mais recente filme, Deserto Particular, será o representante do Brasil na corrida do Oscar de 2022. E, por consequência, Muritiba também representa o país como diretor e corroteirista.
LEIA MAIS:
- 60 anos de Vik Muniz
- Conheça o teatro de bonecos brasileiro aclamado pelo New York Times
- Elisa Bracher comenta sobre o papel social da arte
O filme conta a história de Daniel, um policial curitibano suspenso do trabalho que viaja a uma pequena cidade na Bahia em busca de Sara, sua namorada virtual, que havia cortado o contato com ele. Como toda boa história de amor, a viagem e o encontro dos dois não saem como o esperado e as realidades distintas, assim como os comportamentos dos personagens, envolvem o espectador de uma forma que só o cinema brasileiro consegue fazer. E ninguém melhor para trazer essa história à vida do que Muritiba; afinal, ele é baiano e reside na capital paranaense, mas já fez uma parada em São Paulo – e, assim, os contrastes do Brasil são parte de seu cotidiano.
Nós nos encontramos em Nova York, no fim de novembro. Era um domingo de manhã, ele estava encerrando a semana de mostras de Deserto Particular para o público americano, e também passou por Los Angeles com o mesmo intuito. Com brilho no olhar, muito devido à reação da plateia recente, ele nos contou sobre o filme e a experiência de agora ser um concorrente oficial à maior premiação de cinema do mundo. Confira a entrevista com Aly Muritiba.
Versatille: Além de dirigir, você também escreveu o roteiro de Deserto Particular, com Henrique dos Santos. Como é ter o filme que vocês literalmente criaram selecionado para representar o Brasil?
AM: É uma honra muito grande e uma responsabilidade proporcional à ela. Para o filme é maravilhoso, porque traz uma visibilidade que ele não teria. Ele teria sido assistido por um par de pessoas que acompanham cinema brasileiro. O fato de ter sido escolhido para representar o Brasil no Oscar tem aberto um monte de possibilidades. Mas eu também não fico me iludindo: “Ah, vou estar no Oscar”. É muito difícil. Você precisa ter muitos contatos, muitos contratos. É preciso fazer negócio. E eu não sou desse mundo ainda. Pode ser que seja um dia, mas não sou agora. Então, se acontecer de a gente estar na lista em dezembro, vai ser sensacional. Mas, se não der, está tudo certo.
V: Apesar de ter uma grande carreira, você é considerado um novo nome na indústria. Qual é sua interpretação para isso?
AM: Eu gosto de ser chamado de novo. Não vem de uma tradição [risos]. Acho que mostra um pouco de como a indústria está se democratizando. A gente viveu, nos últimos dez anos, um movimento muito bonito de inclusão, de mulheres em cargos importantes de produção, direção e criação. Também foi muito grande de pessoas da comunidade LGBTQIA+ e de pessoas negras. A democratização dos meios de produção, essa coisa do digital e da política pública, originário dos governos anteriores, de descentralizar a produção, são responsáveis pelo surgimento de pessoas como eu e outros tantos diretores que vêm ou de cidades muito pequenas ou de polos que não produzem muito, como é o caso do Paraná.
V: Qual é o maior desafio para você fazer cinema no Brasil?
AM: Comer, e é sério. É muito difícil a gente viver fazendo cinema no Brasil. Eu não vivo de cinema. Eu vivo de streaming hoje em dia, faz três anos que vivo das séries que faço. Com Deserto Particular, abri mão do meu cachê de diretor, porque não tinha grana para finalizar o filme. E tive de pagar os direitos de Total Eclipse from the Heart, porque insisti na música.

Cenas do filme ferrugem (2018) (Divulgação Olhar)
V: O que motiva você a fazer cinema, já que não traz retorno financeiro?
AM: O que eu vivi agora em Los Angeles, em Veneza e na mostra de São Paulo: ver um monte de gente sentada assistindo ao meu filme e se emocionando. Não consigo experimentar isso na publicidade nem no streaming. No máximo, quando uma série vai ao ar, aparece a reação no Twitter. Mas eu não vejo a pessoa, não sinto o que a pessoa está sentindo. É por isso que eu faço cinema, para ver as pessoas tocadas pelos meus filmes. O streaming não é cinema e nunca será, porque a pessoa está assistindo sozinha. Além disso, tem a interferência luminosa ou sonora, e a atenção do telespectador se dispersa. Fora a possibilidade de parar o filme a qualquer momento; então, não há imersão. Cinema é um espetáculo coletivo, é uma experiência coletiva e imersiva. O meu filme, visto no cinema, é completamente diferente do que se for visto em uma tela de computador em casa ou na televisão. Ele vai para o streaming e ainda bem, fizemos um ótimo acordo com a HBOMax. Estou felizão porque muita gente vai ver. Mas as pessoas que assistirem em casa não verão o mesmo filme que aquelas que assistirão no cinema. Quando você tem 300 pessoas rindo ou chorando ao mesmo tempo, existe uma descarga energética que é impossível para um algoritmo reproduzir.
V: Hoje em dia, o público americano está muito mais aberto para produtos internacionais, tendo em vista o sucesso de séries e a conquista do Oscar para o filme coreano Parasita. Onde estão situados o cinema e a televisão brasileira nessa nova realidade?
AM: Ainda está faltando uma série brasileira virar um grande sucesso, como Round 6 e A Casa de Papel, que são séries de língua não inglesa que se tornaram uma febre mundial. Acho que, quando isso acontecer, a gente vai dar um salto muito grande para a aceitação da nossa fala, do nosso verbo e do nosso jeito de filmar. Tomara que aconteça logo e que seja uma série minha, como a Cangaço Novo. Estou filmando agora para a Amazon, e ela será lançada em 24 países. Acredito que o público americano e o internacional estão começando a entender o nosso jeito de contar história. Quais são as nossas paisagens, os nossos corpos… A gente tem uma relação com os personagens que é muito próxima, de pele e até sensual, que eu não vejo nos outros cinemas. Falo aqui de como Bacurau, Deserto Particular e Vida Invisível são filmados. Você vê o poro do ator, sente o suor dele. Você sente desejo ou repulsa pelo personagem, mas você não passa incólume.
V: O que levou você a fazer um filme que começa em Curitiba e vai para a Bahia?
AM: Deserto Particular é um filme sobre encontros, sobre consideração e tolerância. E não dá para a gente falar de tolerância se mostrar dois lugares parecidos, ou duas pessoas muito semelhantes. Então, como eu queria falar sobre isso em um país tão intolerante, decidi mostrar esses lugares tão contrastantes, como o Sul do Brasil e o Nordeste, e pessoas de comportamentos tão divergentes e tão diferentes, mas sendo capazes de conviver e de se encontrar e de se escutar. Para mim, isso era o relevante. Além disso, tem o fato de que eu queria já há muito tempo filmar na Bahia. Toda a minha filmografia anterior é no Sul, no Paraná. Levei a história para Sobradinho porque é onde meus pais vivem hoje, e queria estar perto deles.

Cenas do filme Ferrugem (2018) (Divulgação Olhar)
V: E como foi levar um set de filmagens a Sobradinho?
AM: A gente tentava ser o mais discreto possível. Equipe pequena, sem iluminação nenhuma, usamos microfone de lapela e a câmera longe. Tudo para ser um tanto quanto invisível, o que era impossível, porque a presença do Daniel Saboia já é completamente diferente da rotina das pessoas de lá. Mas, como a gente queria captar esse frescor, tivemos de nos adaptar. A população à gente e nós a eles.
V: Teve algo inesperado que aconteceu a partir da interação com os locais?
AM: Na verdade, o surpreendente foi quando fomos filmar no
Ceasa, onde o personagem de Pedro Fasanaro trabalhava. Eu imaginei que ia ser um inferno filmar ali porque é um lugar cheio, muito movimentado, com caminhões e gente. Eles trabalham das 4 horas da manhã até as 10 horas, então tínhamos de filmar nesses horários. Como são produtos muito perecíveis, eles não podem parar de trabalhar, então não davam a menor pelota para a gente. E esse “dane-se a gente” foi ótimo, porque eles nem notavam. Há uma cena, em que o Robson está molhando umas bananas e o Daniel chega para devolver algo. Ia ser em um depósito, mas ficou muito sem graça, pois parecia um estúdio. Fui dar uma volta e achei aquele lugar cheio de bananas e tal. Falei com um cara que estava ali jogando Candy Crush e perguntei se poderia filmar e ele disse que sim. Trouxe todo mundo, filmei durante três horas. E o cara está lá, no filme, olhando o celular. Nem saiu da cadeira dele. Tipo, faz o que você quiser mas não atrapalha a minha rotina [risos].
LEIA MAIS:
- Por dentro do novo MASP
- “Uma ideia de colapso”, diz Natalia Borges Polesso sobre A extinção das abelhas
- Por dentro do Instituto InhotimPor dentro do Instituto Inhotim
V: O que vocês querem alcançar com o filme? Qual reação do público você espera?
AM: Antes de qualquer coisa, queríamos contar uma bela história de amor. Acontece que essa história de amor é vivida por um homem heterossexual e uma pessoa não cisgênero. Queríamos fazer isso com delicadeza e respeito aos personagens. Era muito importante que esse filme de amor fosse leve para as pessoas, mesmo tocando em temas sérios. A gente quer que o filme termine com um sorriso. Porque, no fim das contas, é nisso que eu acredito e é disso que o filme fala. Não importa com qual gênero você se identifique nem o que a sua religião professe. Quando você está gostando de alguém, essas coisas são secundárias, são pequenas. Eu quero fazer um cinema bem popular. Estes dias, disseram que outro filme meu é uma mistura de western com chanchada. Eu fiquei muito feliz. É isso aí, o cara leu direitinho meu filme. As chanchadas botavam 2 milhões de espectadores no cinema todos os dias, e eu quero muito fazer isso. Quero muito ser popular e fazer sucesso. E está rolando.
Por Miriam Spritzer | Matéria publicada na edição 123 da Versatille