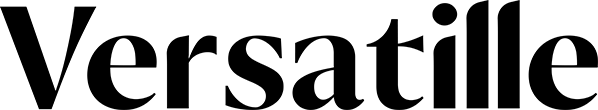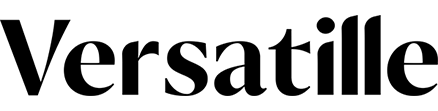Ruy Ohtake x Guto Requena: encontro de gerações do design brasileiro
Em bate-papo exclusivo e intimista, Guto Requena entrevista Ruy Ohtake e desvenda todos os passos do passado e do presente de um dos ícones do design e arquitetura do Brasil

Ruy Ohtake tem 81 anos e assina obras icônicas na capital paulista, como o Hotel Unique. Os projetos sempre levam a sua marca registrada: paredes de concreto ora retíssimas, ora curvas, com desenhos de linhas orgânicas, além do uso pontual de cores.
Guto Requena tem 40 anos, nasceu em Sorocaba e está à frente de obras que unem a tecnologia digital à emoção. Um bom exemplo é o edifício de fachada colorida e interativa na Avenida Rebouças, cujo desenho das luzes responde aos comandos do pedestre via aplicativo.
Poucas coisas, além do tempo, separam os colegas de profissão, que pensam parecido em praticamente tudo em assuntos como cidades e arquitetura.
Acompanhe a seguir o papo cheio de revelações saborosas dos dois.

Guto Requena: Ruy, você influenciou toda a nossa geração; estudei seus projetos na faculdade. Então, vou ser bem sincero. Estava um pouco nervoso porque, afinal, iria entrevistar um ídolo.
Ruy Ohtake: Vamos lá.
GR: O Japão tem se destacado muito no olhar da tecnologia. Que memória guarda do país?
RO: Nasci durante a guerra. Então, não havia comunicação entre os países. Minha mãe, que chegou ao Brasil em 1936, só voltou para Kyoto em 1947, para rever a família [Ruy é filho da artista plástica Tomie Ohtake]. Em um jantar lá na casa de seus pais, minha avó faleceu no colo da minha mãe. Disseram: “ela estava esperando você vir”. Ela não queria voltar muito mais não. Mas, em 1981, aconteceu o seguinte: o Ministério das Relações Exteriores me convidou para fazer a Embaixada do Brasil em Tóquio. Na inauguração, o embaixador disse: “Ruy, fala algumas coisas aí”. Então eu falei o seguinte: “Vim aqui tentar lançar uma sementinha da arquitetura brasileira em Tóquio, o, como os imigrantes fizeram lá no Brasil. Como uma troca”. Foi uma coisa bonita.
GR: Você foi ainda menino ao Japão?
RO: Eu era estudante. Mas tem um fato que não adianta corrigir: não falo japonês. Minha mãe falava em japonês e eu respondia em português. Ela cobrava, mas desistiu.
GR: O Japão influencia o seu trabalho?
RO: Sim, mas tive mais essa influência porque minha mãe foi pintora. No meu trabalho, por exemplo, há a intuição. Ela é uma coisa misteriosa. Fui entendendo cada vez mais isso vendo minha mãe pintar. Porque ela nunca fez um estudo sistemático de artes plásticas. Ela foi fazendo o que ia fazendo, tinha um ateliê em casa. No meu trabalho a intuição vem junto, vem misturada. Você tem todas as regras publicadas. Há livros didáticos e você vai acompanhando a regra, tudo bem. Mas não tem errado ou certo. Tem você, que faz uma coisa interessante e depois faz uma coisa não tão interessante. Por isso não tem que ter medo. É o contrário: tem que ter ousadia, tem que surpreender. Só não erra quem não tenta.
GR: A gente vive numa cidade caótica, complexa, muito rica culturalmente, com muitos problemas. Que papel São Paulo tem na sua vida pessoal?
RO: São Paulo, bem conduzida em termos culturais, é um lugar ótimo para a juventude. Hoje os jovens encontram mais atividades e fatos ligados à arte. Na minha época era tudo muito comportado. Acho isso muito rico para o artista, para o arquiteto. Mas, sabe, minha primeira mulher [a atriz Célia Helena (1936-1997)] descobriu que estava grávida depois que já tínhamos nos separado. Então nasceu a Elisa, minha primeira filha [ele também é pai do arquiteto Rodrigo Ohtake]. Chegava sábado e domingo, era a vez de sair com o pai. Eu pensava: “Puxa, para onde vou levar?” Ela não tinha um ano ainda. Liguei para a minha mãe. “O que vocês vão almoçar hoje aí? Ah, então vou levar a Elisa”. Ela respondeu: “Venha sim”. Aí fui lá. Trinta e cinco anos seguidos. Todos os domingos eu ia almoçar lá.

GR: Como criar cidades mais fraternas e habitáveis?
RO: Quando vamos a cidades que não conhecemos, descobrimos se a população e a municipalidade são amigáveis ou não pela largura da calçada. E, depois, pela proporção de parques e jardins. Mas o que importa é fazer uso do parque de forma bem diversa, como se faz no Ibirapuera, com um monte de atividade. Antes, entre nós havia muito mais trabalho de escritório. Agora essa abertura faz a gente entrar na vivência das populações antigas. Como eles viviam, como participavam da cidade, como eram as relações entre as próprias pessoas? Os domingos na Paulista, por exemplo.
GR: Parece uma miragem a Avenida Paulista sem carros e ocupada por tanta gente aos domingos. Quando vejo, penso que o ser humano deu certo.
RO: É uma coisa bonita, que foi sendo conquistada da população para o governo, mesmo com pressão das lojas contra a iniciativa. Tem que praticar mais isso na cidade. A própria inclusão de bicicletas e patinetes também já é um passo muito bom. Não que isso corrija, mas entra como uma oferta de opção pessoal. Porque andar de bicicleta na cidade é uma forma de enxergá-la de outro jeito. A pessoa fica mais sensível.
GR: De uns anos para cá tenho pensado em como usar a tecnologia digital de forma que aproxime as pessoas.
RO: Voltei da Alemanha há poucos dias; recebi um prêmio lá, o Red Dot Awards. Nas categorias de tecnologia, os desenhos eram muito duros. Aliás, eis uma oportunidade para os designers brasileiros, de se unirem à tecnologia e começarem a aparecer no mundo. A Roca, empresa de cerâmica para a qual desenhei as cubas inspiradas no desenho do ovo, estava lá para divulgar a necessidade de unir o designer à mão de obra, à indústria; para pensar na escala do desenho. Por isso gostei da premiação. Estava na cara que alguém da tecnologia iria ganhar. Não usei tecnologia senão pela cerâmica mais fina da empresa, de cinco milímetros.
GR: Qual é o futuro do design e da arquitetura nesse cenário de transformação? Você pensa nisso?
RO: Tento dedicar uma parte do tempo a essas questões. Na arquitetura, é preciso trabalhar com materiais recicláveis. Há possibilidades muito grandes, mas uma oposição forte das indústrias. Mas ou a própria indústria se adapta ou ela vai se afogar. Precisamos voltar às origens.
GR: Acho que muitos arquitetos têm medo de usar cor. Você não tem esse medo. Estava até estudando o projeto dos “redondinhos” de Heliópolis [um condomínio de prédios redondos e coloridos inaugurados em 2017 na comunidade].
RO: Pedi para o Gilberto Kassab, prefeito na época, para mudar o nome “conjunto habitacional”, que é tão feio. Não ficou muito bom, mas melhorou; ficou condomínio residencial. A escolha vai muito não do que o entorno está usando, mas do que não se está usando, porém que seria bom ter ali. Um pouco como impacto e um pouco como “olha como é bom ter cor na cidade”. Sabe, São Paulo é sem cor assim por causa de Paris. As famílias com mais recursos financeiros, principalmente na época do café, mandavam seus filhos estudarem arquitetura lá, onde se usa a cor do material – se a pedra é bege, o prédio fica bege; se é cin – za, fica cinza. Como há um predomínio dos conservadores nessa área, acho bom não sair gritando contra, mas fazer diferente.

GR: Tem regra de uso?
RO: Não tenho regras para usar cor. Fui para Ouro Preto, em Minas Gerais, estudar a obra do Aleijadinho, de 200 anos atrás. Queria entender como ele desenhava as pessoas. Eu fotografava, transformava em slides e projetava na parede. Ficava olhando… Às vezes colocava um papel vegetal para riscar em cima do desenho dele. A garotada precisa estudar profundamente isso sem ter medo de fazer algo que “o pessoal não gostou”. Alguns não vão gostar mesmo e outros vão se entusiasmar.
GR: Por que Aleijadinho?
RO: Um dia passei em Congonhas do Campo, em Minas Gerais, onde há uma igreja no alto e, na escadaria que leva até ela, os 12 apóstolos, seis de cada lado, esculpidos em pedra-sabão e em tamanho real, pelo Aleijadinho. Naquele dia, ventava um pouco. Parecia que as vestes dos apóstolos também iriam se mexer a qualquer momento! Eu pensei: esse Aleijadinho é fogo. Então fui para Ouro Preto procurar mais sobre ele e vi o colorido das pinturas e igrejas, e ali começou. Isso era mais ou menos em 1970. Já usava um pouco de cor, mas queria ver mais e descobrir como faziam séculos antes. Também fui para algumas cidades do interiorzão do Nordeste. Aquelas casinhas pintadas de verde, amarelo, azul, vermelho…
GR: O que deixaria como mensagem para os próximos criativos?
RO: De um lado, ficar muito atento às divulgações decorrentes do que se está conseguindo produzir. De outro, pôr a mão na massa.