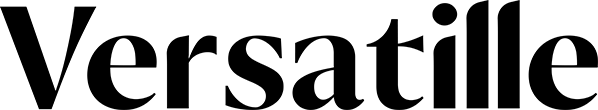Visões de Roma
Sete noites em Roma. Sete amanheceres para os boêmios. Sete crepúsculos para os poetas. Sete dias para um caçador de imagens. Sete são as colinas de Roma, sete são os pecados capitais, disso já cuidou

Sete noites em Roma. Sete amanheceres para os boêmios. Sete crepúsculos para os poetas. Sete dias para um caçador de imagens. Sete são as colinas de Roma, sete são os pecados capitais, disso já cuidou Fellini na sua La Dolce Vita. No filme de 1960 encontramos o jovem Marcello Mastroianni fazendo um cronista dos aristocratas decadentes em noites vazias e de desespero, povoadas por celebridades e paparazzi (nas suas primeiras aparições globais). Como poderia prever Federico que seu Marcello (seu personagem jornalista também se chamava Marcello) apareceria mais velho, não como extensão lógica ou óbvia, mas, a meu ver, como um herdeiro moderno do vazio existencial na figura de Jep Gamberdella no filme A Grande Beleza, uma obra magistral do diretor Paolo Sorrentino. Nele, o adorável anti- herói, vaga perplexo e apaixonado pelos cafés e calçadas noturnas da Via Veneto em busca, talvez, da juventude perdida. Não por acaso o filme abre como este diário gostaria de abrir, com um verso existencial e mundano do escritor francês Louis-Ferdinand Céline, autor do livro Viagem ao Fim da Noite, publicado em 1932. E a tela do filme abre negra como se tivéssemos fechado os olhos e víssemos o mundo pela primeira vez: “Viajar é muito útil e exercita a imaginação. O resto é frustração e fadiga. Nossa própria viagem é inteiramente imaginária. Essa é a sua força”.
Fiquem então avisados que os personagens deste pequeno relato são reais, mas passaram por duas lentes, uma alemã com diafragma e filtros, a outra, mais perigosa, a emoção.
Fui a Roma fotografar para um livro de fotografias muito pessoal, sobre as cidades que habitaram os meus sonhos a vida inteira, Roma é a sétima. Atravessar uma rua em Roma é um pouco como tomar uma ducha fria pela manhã: combate a depressão e sinaliza que a vida é boa e gostamos de estar vivos. No afã da possível travessia da Via del Corso quase peguei no braço de uma ragazza romana à minha esquerda, não que não fosse uma boa ideia, a moça em questão era lindíssima, mas notei que tinha a mesma dificuldade que eu em vencer aqueles 10 ou 15 metros que nos separavam da morte certa ou da continuação daquele que eu achava estar sendo um belo dia.
Sem pensar e notando o olhar confiante da moça disparei: “vengo com te” e como um cão pastor maremano, bom e fiel, segui a moça até o outro lado da rua, abanando o rabo! Sobrevivemos.
A primeira vez que visitei Roma eu tinha 17 anos e eram os anos 1970. Hoje, 40 anos depois da minha primeira experiência romana, as ruas mostram os sinais dos tempos, soldados fortemente armados estão espalhados pelas praças e avenidas — figuras futuristas contra um pano de fundo milenar. São os novos legionários.
Lembro também de como os carros compactos italianos me chamaram a atenção. Parecia que quanto menores mais gente dentro! Como todos sabem, os italianos amam o automóvel, “la macchina”. Mas o que poucos sabem — lembro de ter lido sobre isso — é que na verdade amam o carro, mas cultuam o parachoque. Obcecados que são com as fronteiras, desde os tempos imperiais de Marco Aurélio, enxergam essa parte do carro como uma espécie de linha limítrofe. Ali termina a máquina e começa o homem. Dirigem como maníacos pelas vielas de Roma com total desprezo pela vida do próximo, não fosse isso também um risco inadmissível para a integridade daquela parte do veículo tão cultuada que a seu ver mereceria uma estátua no Pantheon. “Está tudo bem? Se machucou, dá para levantar e andar? Mas espere, riscou o meu parachoque! “Ma vaffanculo”! Polizia!
Fiz uma reserva para o Museu Borghesi e estava ansioso para ficar diante da escultura de Gian Lorenzo Bernini em todo o seu esplendor de 360 graus. O artista tinha apenas 23 anos quando executou o seu O Rapto de Proserpina, certamente ele tem que ser o maior escultor de todos os tempos. Na obra, Plutão — o deus do submundo, escoltado por Cérbero, seu cão de três cabeças — sequestra a bela Proserpina, a filha de Ceres, a deusa da colheita, e a faz sua mulher. A mãe, desesperada, negocia com os deuses — pois seu trunfo é alto, a alimentação da humanidade — e exige a filha ao seu lado nove meses em cada ano, nos outros três Proserpina desce para as entranhas da terra para a companhia de seu marido, criando assim a paisagem desolada do inverno. Essa é a lenda, esse é o mito.
Maya é alemã da Bavária e estuda desenho. Quando cheguei para fotografar a estátua ela já estava lá, em silêncio olhamos o mármore e as histórias que estavam guardadas dentro da pedra. Bernini esculpia cenas, sua pegada era o evento acontecendo, instantes, sem nem antes nem depois, muito parecido com a fotografia.
Clique nas imagens para ampliar
Tenho uma amiga inglesa chamada Melanie que trabalha com uma galeria de arte contemporânea em Londres, a Lisson Gallery, e, em Roma, encontrou-me numa daquelas noites e fomos jantar na casa de um amigo seu. O anfitrião era o príncipe Jonathan Doria Pamphili. Jonathan é casado com um brasileiro, o Braga, inteligente e culto, que divide o palácio de mil aposentos com Jonathan e dois adoráveis filhos. O Palácio Doria Pamphili, onde moram, construído em 1505, tem quase o tamanho da Basílica de São Pedro e ocupa um quarteirão inteiro na Via del Corso, no centro de Roma. Sua coleção de arte, a única no mundo a pertencer a uma mesma família desde o século 17, exibe desde Rafael, Ticiano e Caravaggio até o icônico retrato do papa Inocêncio X — antepassado em linha direta com a família do príncipe —, pintado por Velasquez e que foi, por sua vez, reinterpretado por Francis Bacon e está pendurado num pequeno e despretensioso nicho de uma das galerias. De frente a ele, um outro retrato, desta vez em forma de escultura, deste mesmo papa por ninguém menos que Gian Lorenzo Bernini. Jonathan, Braga e as crianças moram no andar da família, o mesmo em que George Frederick Handel, em pessoa, tocava peças especialmente encomendadas por seus antepassados. O jantar foi ali.
Mas o meu assunto era Roma, ela me esperava. Nas ruas os personagens vão aparecendo e ganhando vida. Passei por uma saída de escola e uma menina encarou a câmera pendurada no meu pescoço, tive sorte e talvez a alça de couro nova avermelhada (comprei numa charmosa loja de fotografia ali perto, que se chama MS, e o logo, em relevo no couro, por coincidência soletra as minha iniciais) tivesse sido o chamariz… Não precisei convidar, dei um cartão e no dia seguinte, por acaso, Rebecca e Clementina viram-me fotografando na Piazza Navona… Vieram direto ao encontro de Plutão e não tive nem que acionar o Cérbero, o temível cão de três cabeças! Não precisei sequestrá-las, posaram para mim alí, entre a luz e a sombra projetada pela fonte executada pelo mesmo Bernini, naquela praça magnífica.
No dia seguinte, quando fui ao parque dos aquedutos na volta de visitar a Cinecittà, a Hollywood italiana, e vislumbrar o mítico teatro 5, ou estúdio 5, o maior da Europa, onde Felini fabricava seus sonhos de celulóide. Melanie, que me acompanhava, decidiu que eu era como aquele pássaro que vai pegando as coisas pelo caminho — You are like a magpie! — em português, o pássaro se chama pega. Pesquisando no google, achei mais sobre ele: olhos brilhantes, gosta de ficar, cauteloso, mas curioso, ao redor dos parques e das cidades. Em italiano, gazza, e era a ave que roubava moedas e talheres de prata na ópera melodramática de Rossini La gazza ladra, incriminando todos os outros personagens. Vaidoso e feliz com o meu novo título, o ladrão de tesouros, guardei a câmera na mochila e sorri para dentro. Roma estava lá, capturada.
Diário de bordo texto e fotos Marcio Scavone especial de Roma, Itália | Matéria publicada na edição 95 da Revista Versatille